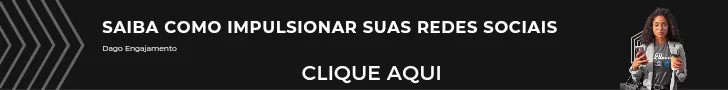Nota do editor: Jeff Yang é diretor de pesquisa do Institute for the Future e chefe do Laboratório de Inteligência Digital. Colaborador frequente da CNN Opinion, ele é co-apresentador do podcast “They Call Us Bruce” e co-autor do novo livro “RISE: A Pop History of Asian America from the Nineties to Now.” As opiniões expressas neste comentário são dele. Consulte Mais informação opinião na CNN.
CNN
—
No filme “Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo”, a icônica atriz Michelle Yeoh – que você certamente já viu em “Shang-Chi”, “Crazy Rich Asians”, “Crouching Tiger, Hidden Dragon” e, se tiver sorte, uma série de obras-primas de ação de Hong Kong – interpreta Evelyn Wang, uma trabalhadora asiática Americano de meia-idade lidando com as demandas avassaladoras de um pai idoso e um filho de alta manutenção. É uma história que parece não ficção, porque muitos de nós (inclusive eu!) Estamos realmente vivendo isso.
Mas essa familiaridade é instantaneamente explodida: apenas alguns minutos no que poderia ter sido todas as crônicas intergeracionais de todas as comunidades imigrantes de uma só vez, “Everything Everywhere” faz uma guinada repentina e fantasmagórica no que pode ser melhor descrito como o Universo Cinematográfico de Michelle Yeoh.
Uma versão do marido de Wang de uma dimensão paralela aparece, contando a Wang, que está ocupada fazendo malabarismos com uma auditoria do IRS, uma visita de seu pai distante (interpretado pelo inimitável James Hong) e o potencial fim do negócio de lavanderia da família, que só ela pode salvar o cosmos de um agente do caos.
Para fazer isso, Wang se vê tendo que canalizar milhares de versões multiversais distantes de si mesma em uma jornada livre que, em última análise, dá sentido a uma vida aparentemente atolada nas lutas da vida cotidiana. Vemos Wang personificar mestres de artes marciais a chefs de teppanyaki e giradores de placas de rua – tudo extremamente variado, mas intrinsecamente entrelaçado; improvavelmente diferentes, mas profundamente conectados por um propósito comum e uma identidade compartilhada.
“Everything Everywhere” é absurda, emocionante e arrebatadora. E é uma metáfora surpreendentemente perfeita para isso que chamamos de América Asiática, uma cultura e identidade que o The New York Times certa vez chamou de “bela, ficção imperfeita” em um artigo de opinião do romancista vencedor do Prêmio Pulitzer, Viet Thanh Nguyen: Bonito porque asiático-americano é um termo que promete o calor de pertencer a uma causa maior, uma comunidade maior. Falho porque o termo às vezes é usado para nos reduzir a um monólito sem textura e sem características, achatando a diversidade indisciplinada e desconfortável que resiste à nossa categorização comum. E ficção porque, em sua essência, a América asiática é de fato um ato de invenção coletiva – uma história de origem de super-herói que 18 milhões de nós estamos contando juntos.
Como escreveu Nguyen, “’Asiático-americano’ foi uma criação, e aqueles que dizem que não há ‘Asiáticos’ na Ásia estão certos… ficção sexista do asiático-americano. Nós desejamos que existíssemos.”
Em “Everything Everywhere”, Evelyn Wang pode evocar qualquer realidade que ela imaginar, trazendo substância aos mundos ultrajantes de sua imaginação, extraindo o poder da infinita diversidade de sua miríade de eus – transformando muitos em um, às vezes por acaso, às vezes por escolha.
E nós, como asiático-americanos, estamos no processo de fazer o mesmo, construindo uma colagem cultural de mídias mistas e experiências vividas – de conversas noturnas em dormitórios universitários, olhares sim-estou-vejo em salas lotadas, vídeos virais, hashtags crescentes e memes ricocheteantes; de uma massa crescente de momentos mágicos, desde a dura histeria da corte de Linsanity até a eleição histórica de Kamala Harris como a primeira negra e primeira mulher asiática vice-presidente dos Estados Unidos.
No processo, o que começou como ficção, ao longo das últimas três décadas, acumulou realidade. Essa história, de nossa auto-invenção asiático-americana, é o tema de nosso novo livro. “RISE: A Pop History of Asian America, from the Nineties to Now.” Coescrito por mim, Phil Yu, criador do icônico blog homem asiático irritado e Philip Wang, força orientadora por trás do prolífico e influente canal do YouTube Wong Fu Produções“RISE” traça três décadas em que a experiência asiática na América passou das margens excluídas de nossa sociedade e cultura para – bem, se não o centro do palco, pelo menos uma visibilidade nova e desafiadora.
Há uma razão pela qual escolhemos nos concentrar nas décadas “desde os anos 90 até agora”. Em 1965, a Lei Hart-Cellar removeu as restrições racistas que historicamente limitavam fortemente primeiro os chineses e depois todas as pessoas do “Zona Barrada Asiática” de migrar para os EUA. Uma vasta onda de imigrantes asiáticos começou a desembarcar nestas costas, expulsos de suas terras natais por guerras ou desastres naturais e sugados para a América por sua fome de mão de obra qualificada. A maioria veio com a intenção de ficar, constituir família. Nossos próprios pais estavam entre eles, e chegamos à idade adulta perfeitamente espaçados entre essas décadas, eu na década de 1990, Phil na década de 2000, Philip na década de 2010.
Mas foi o que aconteceu em 1968 – três anos depois de Hart-Cellar – que moldou como vivenciamos essas décadas. Esse foi o ano em que a frase “Asiático-americano” foi cunhado pela primeira vez por um grupo de ativistas estudantis com sede em Berkeley, Califórnia, liderados por Emma Gee e Yuji Ichioka, que buscaram criar uma bandeira muito literal para apoiar os estudantes negros que protestavam pela libertação do Pantera Negra Huey Newton da custódia policial.
Em 1971, o termo já havia se espalhado de suas raízes de protesto na Bay Area para uso amplo entre formuladores de políticas, acadêmicos, comerciantes e criadores de cultura. Quando cheguei ao ensino médio, uma década depois, era uma caixa que me pediam regularmente para verificar formulários e aplicativos.
E o que significava ser “asiático-americano?” Nas décadas de 1970 e 1980, ainda era principalmente um identificador de conveniência (certamente melhor do que ser desviado para a categoria de “Outro”); uma ferramenta para autodefesa (o assassinato de Vincent Chin em 1982 por dois trabalhadores automotivos desempregados que buscavam punir os “japoneses” criou o incentivo para abraçar a identidade “asiática” entre aqueles que buscavam segurança em números); ou um termo de arte, aplicado pragmaticamente por cientistas sociais e demógrafos para dar a uma população extremamente diversificada e em rápido crescimento algum tipo de compra taxonômica em um país cujo principal meio de categorização é a raça.
Para muitos que cresceram naquela época, no entanto, asiático-americano era um termo que apontava recursivamente para si mesmo: ser asiático-americano significava ser descendente de asiáticos na América. Talvez os crescentes milhões de nós tivéssemos algumas características e traços culturais em comum; mas, na maioria das vezes, nossos bisavós eram inimigos mortais, nossos avós mantinham suspeitas mútuas e nossos pais nos davam longos sermões sobre por que o casamento entre etnias asiáticas poderia causar “problemas”.
Foi deixado para aqueles de nós que tropeçamos na faculdade nas décadas de 1990, 2000 e 2010 – tendo aquelas conversas tarde da noite na faculdade, tendo trocado aqueles olhares de sim-eu-vejo-você, tendo namorado quem diabos quiséssemos, sobre os protestos de nossos pais – para encher a caixa do asiático-americano com um multiverso.
E agora, 30 anos depois, ainda estamos preenchendo, ainda rabiscando nas margens do trabalho de gerações anteriores, ainda dando novos saltos e conexões, estabelecendo padrões, criando obras canônicas e quebrando recordes.
Mas agora estamos fazendo isso com um conforto sem precedentes, até mesmo com confiança, que vem de ter tido sucesso suficiente – um “Fresco fora do barco” aqui (estrelado por meu filho Hudson!), um “Never Have I Ever” ali, uma descoberta de “Crazy Rich Asians” e uma fuga de “Minari”, alguns Nathan Chens, Chloe Kims e Naomi Osakas para acompanhar nossos Tiger Woodses, Michelle Kwans e Kristi Yamaguchis – para sentir que todo o nosso futuro não depende de cada próxima coisa que colocamos na cultura, com a pressão de que seremos exilados de volta ao deserto se ganharmos o mero status B + (um “F Asiático ,” em Hollywood, bem como em inúmeros mãe tigre memes).
O que isso significa é que agora podemos correr riscos, expandindo nossa “bela ficção defeituosa” em novos mundos de histórias sem limites. No mês passado, viu a chegada de Domee Shi’s “Ficando Vermelho,” um filme de animação abordando as provações da puberdade através de lentes alegremente inesperadas; “Umma,” o filme de terror de Iris Shim estrelado por Sandra Oh como uma mulher com problemas de mãe do tipo chamar um exorcista; de Kogonada “Depois de Yang,” uma meditação em camadas de ficção científica sobre raça, tecnologia e o significado da família; “Pachinko”, a adaptação inimaginavelmente ambiciosa para Apple TV+ do livro de mesmo nome de Min Jin Lee; e sim, claro, “Everything Everywhere All At Once”, de Daniels Kwan e Scheinert.
Cada um desses contos é intrinsecamente asiático (norte) americano, mas estende o significado dessa identidade através de novas fronteiras de tirar o fôlego: em suma, como nós, eles são extremamente variados, mas intrinsecamente interligados; improvavelmente diferentes, mas profundamente conectados por um propósito comum e uma identidade compartilhada.
Essa é a promessa das próximas décadas, enquanto continuamos a codificar significado em um termo que antes era vazio, para adicionar carne canônica a um esqueleto cultural, para construir solidariedade e comunidade em camadas crescentes e agregadas: que nossa América asiática se tornará cada vez menos fictício, menos imperfeito, mais bonito.
Sim, somos um trabalho em andamento, mas ainda estamos trabalhando e progredindo, e o sucesso que temos em superar nossas diferenças e encontrar um terreno comum tem o potencial de ser um modelo para toda a nossa nação fragmentada. Se os asiáticos, a população americana mais bagel, podem aprender a aceitar e integrar nossos eus multiversais, por que a totalidade desses não tão americanos Estados Unidos não consegue descobrir isso?
É apenas uma questão de entrelaçar nossas histórias individuais, contando-as umas para as outras e para o mundo. Citando Jamie Lee Curtis, que interpreta Deirdre Beaubeirdra, antagonista de “Everything Everywhere“: “Você pode ver apenas uma pilha de recibos, mas eu vejo uma história.” E para citar Ke Huy Quan, que interpreta seu herói romântico, Waymond Wang: “Cada rejeição, cada decepção trouxe você aqui para este momento. Não deixe que nada o distraia disso.”
E, finalmente, para citar a própria Evelyn Wang de Michelle Yeoh, conforme ela lentamente descobre que tem a capacidade de se conectar a todas as suas muitas variantes multiversais, aproveitando suas memórias, suas experiências e até suas habilidades para alimentar sua própria luta pelo futuro: “ Estou prestando atenção.”